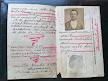Luís Souta
MEMÓRIAS E TESTEMUNHOS
infância e adolescência na literatura
«Alguém viu a literatura
como infância recuperada.
Por isso escrevo, sim»
(Mortal e Rosa, Francisco
Umbral, 2003)
O escritor dá testemunhos valiosos, nas suas obras, da
infância, da adolescência e, naturalmente, dos tempos de escola: «A escola não
esquece nunca mais!» (Novos Contos do Gin,
Mário-Henrique Leiria, 1973:106).
As recordações desse “éden” etário, esse universo mágico
(em particular o da infância1, que muitos escritores perseguem e que
à distância é visto como o “paraíso perdido”), giram, frequentemente, em torno
da escola; tal denota uma certa ausência de vida própria, muito circunscrita à
vida escolar que os adultos impõem às crianças e aos jovens. As memórias,
naturalmente, diversificam-se no período universitário, fruto de uma vida
crescentemente autónoma e já não exclusivamente centrada na escola (e na
família).
Fentress e Wickham (1992) definem a memória como fonte da
história e o contista duriense João de Araújo Correia (1951) como «lareira
íntima varrida, mas não extinta». Já para Teixeira de Pascoaes «a memória é um
museu, uma variedade imensa de estátuas e quadros; uns animados pela dor,
outros pela alegria» (1927:94). E para Vergílio Ferreira «memória é onde está
tudo o que sou» (1983:75). Ora é muito pela memória pessoal (afectiva e
documental), de tempos e lugares, que o escritor reconstitui cenários,
atmosferas, diálogos… Podemos então falar numa atracção pelo passado, uma
vontade de procurar e preservar esse tempo, percepcionado como uma fonte sempre
presente e inesgotável de material literário, como o admite Urbano Tavares
Rodrigues: «todo o romance, todo o poema estão sempre relacionados com a
memória (…) O meu reservatório mais rico de memórias é a infância e a
adolescência»2.
Urbano Tavares
Rodrigues
Outros mostram-se convictos que é desse período que emanam
as traves-mestras que nos moldam o carácter para os dias vindouros. É o caso de
Manuel Alegre, que no livro Alma
(1995), conta histórias de Águeda (a verdadeira Alma) através do olhar de um
rapazinho de 8-9 anos (ele próprio3): «Dessa infância, donde vêm as
imagens e as emoções que norteiam a vida. Toda a vida: não há flecha que não
tenha o arco da infância»4.
Em qualquer dos casos, estamos perante um exercício
intelectual, que impõe um retrocesso cronológico significativo, pois é de uma
«infância passada no presente pensada» (nas palavras usadas no poema “A margem
da alegria” de Ruy Belo, 2000:437) que se trata. Um retorno que pode trazer
ganhos inesperados como o assegura o escritor António Mega Ferreira: «a
passagem do tempo projecta sobre a memória uma luz que nos arranca coisas que
nunca imaginámos lá estarem»5. No entanto, nessa “viagem” os riscos
e os abalos também são enormes, como o reconhecem Fernanda Botelho, em Lourenço é nome de jogral «É estranho:
quando a máquina da memória nos restitui ao passado, muitas são as surpresas
que nos deparam» (1971:107) e Fernando Namora, no prefácio da novela Casa da Malta: «A memória da infância, nebulosa
e romântica» (1945:23). Para este amenizar do passado infanto-juvenil que o
tempo introduz nos alerta Raúl Iturra (1998) «em adulto, passa a ser uma
lembrança simpática e divertida, enquanto que em criança, um pesadelo regado em
lágrimas.»
Mas não é só o rigor e a precisão dessa “recolha” que são
questionados, quando as brumas do tempo se instalam de permeio, desfocam e
adulteram; também esse olhar do adulto marca, necessariamente, a forma como se
viveu e sentiu o passado longínquo. Disso nos dá conta Miguel Torga no seu Diário: «O autor que descreve a
adolescência, fá-lo com as suas manhas de adulto. Ora um diário que tenha um
mínimo de honradez, e é o caso presente, apanha a vida no salto do berço, nua e
desprevenida» (1956:10). Mas num volume anterior, o IV, mostra a
impossibilidade objectiva dessa tentativa de recuperação de um passado, que
trazido para o presente é já, em si, uma outra coisa: «A infância não se
repete, nem na lembrança, nem na imaginação. Quando muito, dá-se outra
infância. As cenas ingénuas, porque eram ingénuas, não tinham consciência; e as
humilhações, de tão pungentes, não há memória que consinta na sua perfeita
expressão» (1949:15-6). Estaríamos assim perto de uma memória imaginária? Pelo
menos, é o que se pode depreender do poema de Fernanda de Castro (1989:288):
«Agora, a tantos anos de distância,/ já não sei se inventei a minha infância».

O saudosismo, como corrente estética e doutrinária, e em
particular o seu chefe-de-fila Teixeira de Pascoaes, dá ênfase muito especial à
infância, vista como um período mitológico, «a idade de oiro». Amam-se as
coisas quando delas estamos separados6 ou quando as perdemos. Como
nos indica Ruy Belo numa das suas poesias – “Como quem escreve com sentimentos”–
«A infância é uma insignificância eu sei/ e apenas por a ter perdido a amamos
tanto» (2000:494). Na impossibilidade do retorno, resta-nos a sua recuperação
(reabilitação?) pela memória. E é isso que Pascoaes pretende. Para ele «a vida
é memória» (1928:78) uma vez que «as lembranças não morrem; adormecem e acordam
ao menor ruído» (ibid.:86). Ao
escritor, mantendo uma atenta atitude face ao mundo que o rodeia (pois o
presente e o porvir não deixam de o interessar), cabe-lhe essa permanente
acuidade em relação ao pretérito, seja ele fabuloso ou desolador. Contudo, o
interesse pela infância parece aumentar à medida que mais se afastam dela, como
o observa Vergílio Ferreira: «Mas o que me lembra é o tempo da infância, como é
próprio da senectude, que avança para o futuro de costas» (1983:179).
Há quem mostre algum cepticismo, ou pelo menos levante
dúvidas, a estes recuos no tempo, em processos de vaivém (mesmo quando eles
próprios o cultivam). Desse passado podem nos vir imagens distorcidas, menos
fiéis, de contornos esbatidos e arestas limadas, já que essa realidade passou,
agora, por um duplo crivo – o temporal e o pessoal. Urbano Tavares Rodrigues
resume essa problemática nestes termos: «Suponho que a contradição reside no
facto de o passado representado, ou tornado presente, na confabulação e na
ressurreição verbal do texto, ser afinal o eldorado íntimo, mesmo quando
andrajoso ou atroz» (1977:9). Mas Júlio Conrado (1984:168) procura centrar a
questão mais na idade que na realidade: «Esses tempos é que eram tempos, não
por que fossem bons, mas por que tenros eram os anos…». Por sua vez, Mega
Ferreira, na entrevista citada, coloca o problema como intrínseco ao próprio
processo literário: «todas as recordações em literatura são uma decantação e
uma transfiguração daquilo que nos aconteceu».
Em conclusão, o escritor é «uma voz que preserva e
testemunha» (Torga, 1976:65). E como tal, as suas obras não podem deixar de
ser, para nós, um referencial obrigatório7, pois funcionam como
memórias sociais8 sobre a vida e a escola. Ainda que tendo presente
os obstáculos, reais e subjectivos, que o campo da literatura sempre coloca a
esse desejo (mais positivista que pós-moderno) da «objectivação científica». Em
todo o caso, qualquer obra literária se impõe quanto mais nela reconhecermos
veracidade ou, pelo menos, verosimilhança9, o que torna credível e
convincente aquilo que é narrado. Isto significa que sem essa base de
“factualidade” (tempo, lugares, acontecimentos, pessoas, sociedades, etc.) a
obra ficcional tem dificuldade em ser compreendida e aceite. Nesse labor, o
escritor é um «coherence builder», como o designou Valdés (1992).
Notas
1.
«Há na memória um rio onde navegam/ Os barcos da infância» (versos do poema
“Retrato do poeta quando jovem” de José Saramago, Os Poemas Possíveis, 1966, p.
59).
2.
Entrevista de Urbano Tavares Rodrigues ao Ensino Magazine, nº 10, Dezembro
1998, p. 2.
3.
Por isso, Torcato Sepúlveda, numa recensão no Público, considera Alma como «um
equívoco», pois não se trata de um romance, como Manuel Alegre (ou a editora?)
o subintitulou, mas de uma autobiografia, um livro de memórias (o livro termina
com a datação e a assinatura completa do autor).
4.
In contracapa do livro.
5.
Entrevista de António Mega Ferreira ao DN, 27/11/2002, p. 44.
6. Tal
como o poeta António Nobre o anotava: «comecei amar Portugal depois que o
deixei».
7.
“Literatura e testemunho” foi um dos temas do III Congresso da Associação
Portuguesa de Literatura Comparada que se realizou na FCG, 9-11 de Março 1998.
8.
Raúl Iturra define memória social «como o conjunto de lembranças pessoais que
ficam no grupo depois da sua transmissão por muitos indivíduos que convivem a
partir de épocas e conjunturas diferentes» (1997:34-5).
9. «[V]erosímil:
semelhante à verdade, verdade: um verosímil que obteve consenso» (José
Fernandes Fafe, 2003:26). Por sua vez, Vergílio Ferreira define verosimilhança
«como a coordenação lógica do que se diz, a coerência interna de uma obra de ficção»
(1980:72).
Referências
ALEGRE, Manuel (1995) Alma. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
BELO, Ruy (2000) Todos os Poemas. Lisboa: Assírio &
Alvim.
BOTELHO, Fernanda (1971) Lourenço é nome de jogral. Lisboa: Contexto, 2ª edição, 1991.
CASTRO, Fernanda de (1989) “A Índia foi verdade?” in 70 Anos de Poesia. Porto: Fundação Engº
António de Almeida.
CONRADO, Júlio (1984) As Pessoas de Minha Casa. Lisboa: Vega/
O Chão da Palavra, 2ª edição, 1986.
CORREIA, João de Araújo (1951)
Cinza do Lar. Régua: Imprensa do
Douro, 2ª edição, 1970, página de abertura do livro.
FAFE, José
Fernandes (2003) Annie – uma portuguesa
na revolução cubana. Lisboa: Dom Quixote.
FENTRESS, James & WICKHAM,
Chris (1992) Memória Social. Ed.
Teorema.
FERREIRA,
Vergílio (1983) Para Sempre. Venda Nova: Bertrand
Editora/ Obras de V. F., 10ª edição, 1996.
ITURRA,
Raúl (1997) O imaginário das crianças: os
silêncios da cultura oral. Lisboa: Fim de Século/ margens.
ITURRA,
Raúl (1998) Como Era Quando Não Era o Que
Sou: O Crescimento das Crianças. Porto: Profedições.
LEIRIA,
Mário-Henrique (1973) “Saudades da Infância” in Novos Contos do Gin. Lisboa: Editorial Estampa/ Ficções, nº 13, 3ª
edição, 1978.
NAMORA,
Fernando (1945) Casa da Malta.
Publicações Europa-América/ livros de bolso E.A., nº 500, 13ª edição, 1988.
PASCOAES,
Teixeira de (1927) Livro de Memórias.
Amadora: Livr. Bertrand /Obras Completas T.P., VII vol. (Prosa I), s/d.
RODRIGUES,
Urbano Tavares (1977) Estórias
Alentejanas. Lisboa: Editorial Caminho/ Letras, nº 18.
TORGA,
Miguel (1949) Diário. Volume IV,
Coimbra.
TORGA,
Miguel (1956) Diário. Volume VII,
Coimbra.
TORGA,
Miguel (1976) Fogo Preso. Coimbra, 2ª
edição, 1989.
VALDÉS,
Mário J. (1992) “Crossing the boundary between fact and fiction in History and
Literature”. Dedalus – Revista
Portuguesa de Literatura Comparada, nº 2, Dezembro, pp. 23-9.